Os direitos e as big techs

O século XVII inaugurou a confraternização de individualidades com pensamentos e crenças díspares. O clima de tolerância e civilidade é uma conquista entre tons de cinza do irracionalismo. Vejamos como se constituíram os direitos que aprofundam a democracia, ameaçada pelas big techs.
No Dictionnaire de philosophie politique, organizado por Philippe Raynaud e Stéphane Rials, o verbete “Droits de l’homme” sublinha que a noção de direitos é inseparável do pertencimento à coletividade, que transfere para o indivíduo um reconhecimento como pessoa moral com direito a ter direitos. Há duas maneiras de abordar a questão. A antiga remete a uma metafísica da natureza humana, sob uma divindade bíblica que arrola direitos objetivos (naturais). Na tradição cristã, os direitos advêm do Criador que fez a criatura à Sua imagem e semelhança. Daí, deduz-se o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à busca pela felicidade. Avanço considerável no cotejo com o milênio de trevas do medievo em que os servos possuíam só deveres, e nenhuma prerrogativa.
O braço secular da modernidade, porém, concebeu a partir do Estado laico outra forma de direitos. Os direitos subjetivos (não naturais) legitimaram a liberdade de consciência para investigar a verdade com confissões não oficiais e atitudes não religiosas, ateias ou agnósticas. Apagava-se a cruel fogueira inquisitorial da imolação de Giordano Bruno (1548-1600), acusado de heresia.
O século XVII inaugurou a confraternização de individualidades com pensamentos e crenças díspares. O clima de tolerância e civilidade é uma conquista entre tons de cinza do irracionalismo. Vejamos como se constituíram os direitos que aprofundam a democracia, ameaçada pelas big techs.
Direitos humanos
Modernamente, a autonomia é a palavra-chave para apreender a revolução dos direitos humanos. A descoberta do autonomismo embasa a luta pela legalização do aborto (“meu corpo, minhas regras”, pregam as feministas) e das diversas expressões de sexualidade (“cada um sabe a dor e a delícia de ser quem se é”, canta o filho de dona Canô). Tudo de acordo com a regra sagrada: a liberdade de um termina onde começa a liberdade de outrem. É função do Estado manter o respeito à norma básica.
O preceito autonomista orientou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, em Paris. Na DUDH, os direitos individuais abrangem o ir e vir, a segurança, o zelo pela privacidade, o julgamento imparcial, a reunião e a associação e, para não dizer que não falamos das flores, o direito de propriedade.
Com a expansão da sociedade industrial, as desigualdades se acentuaram e ensejaram movimentos por direitos sociais. Essa segunda geração de direitos possibilitou a fruição dos direitos da primeira geração e está na origem do Estado-Providência, erguido na Europa pelas políticas redistributivas em prol do igualitarismo. Os direitos sociais atenderam a demanda de meios materiais para cobrar as injustiças que pairavam sobre o trabalho e viabilizar o exercício das liberdades elementares.
A terceira geração de quesitos contemplou os direitos culturais e políticos. Culturalmente, temores identitários das “minorias” reatualizaram o medo de maiorias hostis pela memória da perseguição da Igreja Católica aos hereges, da sevícia do colonialismo aos habitantes originários, da escravidão supremacista por 350 anos de afro-brasileiros, da misoginia, da homofobia, da invisibilização de personas com deficiência e do abandono de vulneráveis. A proteção de cultos, costumes, línguas e modalidades de vida traduziu-se nas lutas anticolonialistas de rejeição ao etnocentrismo europeu.
Os direitos políticos evitaram que a dignidade do Homo sapiens se tornasse apêndice do consumo e do espetáculo, no passeio entre vitrines indiferentes aos assuntos de interesse relevante para a pólis. As três gerações de direitos, legadas pelo estudo emblemático de T. H. Marshall, estão englobadas no construto teórico de direitos humanos: critério, por excelência, para a classificação de uma nação na categoria do Estado democrático de direito; ou para sua inserção na figura do Estado de exceção.
Alguns cogitaram substituir a autonomia pelo humanitarismo para condenar a tortura, por exemplo. Mas a troca de paradigmas separaria os direitos dos indivíduos, entre os quais não ser torturado, da práxis política para intervenção na esfera pública. Conforme ensina Immanuel Kant, a auto-nomia implica dar ao sujeito-legislador a capacidade suprema de elaborar leis a que ele mesmo obedecerá, o que pressupõe um ato livre. A ênfase recai nos direitos dos cidadãos ativos no espaço dos comuns.
A heteronomia, em contrapartida, confronta a autonomia com pressões socioeconômicas de fora para dentro das mentes e corações. Adotada em 1970-1980, a ideologia do monetarismo nutre o retrocesso civilizacional que quebrou a bússola indicadora da socialização afirmativa de direitos. Ao revés, caracterizou o permanente desrespeito aos direitos e o desgaste das instituições que alicerçam as Repúblicas, na contemporaneidade. Desindustrializar então rimou com dessocializar e excluir.
Com a economia blindada pela antipolítica, o neoliberalismo obstaculiza a realização de direitos. Às custas da governabilidade dos eleitos pela soberania popular, a globalização do mercado de capitais contrapôs os direitos à sociabilidade democrática e ao vetor econômico-social da solidariedade material. Desperdiçou a chance de fazer uma equalização das oportunidades e resultados. Sem citar a fúria do neofascismo contra o conceito ampliado de direitos humanos e a própria democracia.
Contra as fake news
No III Fórum Mundial de Direitos Humanos (Buenos Aires, 2023), que debateu experiências exitosas nos hemisférios Norte e Sul para amainar desigualdades e alavancar a inclusão social, o presidente da Corte Interamericana dos Direitos Humanos elogiou a oportuna iniciativa do governo Lula de ampliar o debate sobre a regulamentação das big techs para o plano internacional e, no plano doméstico pós-destruição, por mirar em temas restauradores tais como os que seguem:
(a) sociais, ao focar na fome, na moradia, no desemprego;
(b) econômicos, ao unir o desenvolvimento e a sustentabilidade;
(c) culturais, ao enaltecer os direitos dos povos originários e a igualdade de gênero e raça e;
(d) ambientais, ao defender a preservação da Amazônia e os investimentos em energia limpa.
As redes sociais democratizaram a liberdade de expressão. Positivo. Mas também abalaram a confiança na democracia em processos eletivos com desinformações. Negativo. As “eleições do Twitter” sancionaram Donald Trump nos Estados Unidos (2016). As “eleições do WhatsApp” ungiram Jair Bolsonaro no Brasil (2018). Com vagalhões digitais, ambos ascenderam nas urnas ao estilo da campanha do Brexit na Inglaterra, isto é, atropelando o direito da cidadania a informações corretas. Com práticas analógicas, os progressistas não dispunham de know how para construir barreiras às ondas; faltava-lhes saberes. É indispensável um preparo técnico para enfrentar a Infocracia, que Byung-Chul Han define como “o capitalismo de informação que se desenvolve em capitalismo de vigilância e degrada os seres humanos em gado, animais de consumo de dados”.
As big techs têm de controlar a difusão do fenômeno, ao contrário de bater o sino anarcoliberal de que a internet está além do bem e do mal. Caso não criem dispositivos de contenção, os Estados nacionais precisam fazê-lo para salvaguardar a democracia. Cabe às corporações empresariais a autorregulamentação transnacional para evitar a pulverização de regramentos isolados. Quando as megaempresas cancelaram vídeos desinformativos da webesfera, a extrema-direita julgou tratar-se de uma censura. “Estamos a caminho da amputação maciça no sistema de liberdades públicas e individuais, a perspectiva da desgraça está próxima”, depressa teatralizaram o jus esperniandi.
Hoje, procura-se a Pós-Verdade nas bolhas de ressentimentos que destamparam o esgoto. Para Umberto Eco, “a internet promoveu o idiota da aldeia a portador da ‘verdade’ (sic)”, sob aplausos da “legião de imbecis” que perdeu a vergonha de arrolar sandices e maquinações conspiratórias, atrás da tela de um celular. Les bêtes humaines constroem realidades paralelas. No hospício, em que todos se sentem um Napoleão em camisa-de-força, a menção aos direitos humanos identifica os garantistas do constitucionalismo, inimigos dos punitivistas que fazem do fim da presunção de inocência um instrumento de justiça. Feito o quero-quero, alucinados gorjeiam em lugar distante do ninho. Disparam o ódio, aqui, com a intenção de matar a democracia, ali, na próxima esquina.
As redes foram arrebatadas com o objetivo metódico de distorcer e manipular o entendimento dos internautas, registra Patrícia Campos Mello, em A máquina do ódio: notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. “Não dá para aceitar bovinamente que a regulamentação dos gigantes (Facebook / WhatsApp, Twitter, Amazon, Microsoft, Apple, Google) vai acabar com a internet livre. É preciso discutir com cuidado e ampla participação da sociedade civil como conceituar o que são notícias falsas e punir quem as financia e as espalha”, enfatiza a jornalista, que padeceu calúnias por mais tempo do que os “dois minutos de ódio” a que se referia George Orwell no distópico 1984.
A Secretaria de Políticas Digitais da administração federal propugna alterações no artigo 19 do Marco Civil da Internet que exime as plataformas de responsabilidade pelos danos decorrentes de conteúdo, gerado por terceiros, a menos que exista uma ordem judicial para remoção de conteúdos. O começo parece muito auspicioso. Se os meios são imprescindíveis aos fins na materialização de direitos, a regulação acompanhada da rápida imputação pela negligência das plataformas é crucial, no embate que se desdobra entre a democracia e o totalitarismo, no surpreendente século XXI. As grandes mensageiras das novas tecnologias violam inúmeras dimensões dos direitos humanos.
Sem os meios materiais, os direitos são soterrados, ou pelos dissimuladores para enganar o povo crédulo (modo hipócrita), ou pelos enganadores que têm a desfaçatez de mostrar as intenções malévolas (modo cínico). Num ato falho, Benito Mussolini nos anos 1920 escolheu um símbolo da mentira, Pinóquio, para divulgar as ideias de jerico do fascismo italiano. O escarro da Barra da Tijuca que surrupiou joias milionárias da União, e milita pela propagação contínua de fake news, tem como alegoria o anti-herói do folclore português, Pedro Malasartes, o bobalhão de más artes. A solução está em plataformas que resguardem os direitos e coíbam o uso e o abuso de falsidades.
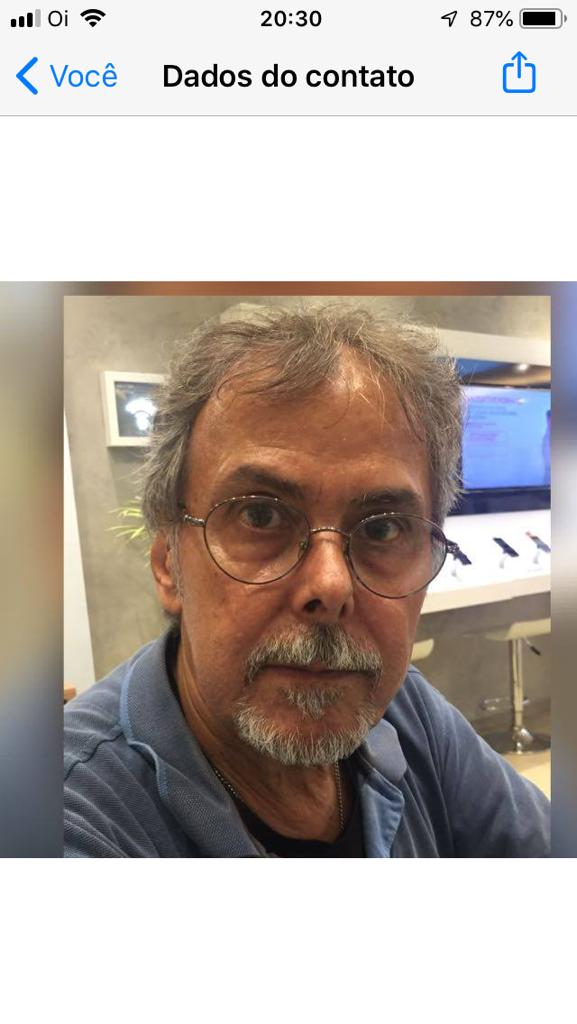
Luiz Marques é docente de Ciência Política na UFRGS, ex-Secretário de Estado da Cultura no Rio Grande do Sul

