A utopia informacional

Nota sobre o ensaio ‘Big Tech’, de Evgeny Morozov
Quando a máquina elétrica de debulhar milho chegou ao campo, os peões de estância exclamaram: “Não falta inventar mais nada!” Era o auge do progresso. Com a digitalização, a tecnologia – da informática – adquiriu uma importância na geopolítica, na finança mundial, no consumismo e até na apropriação corporativa dos relacionamentos íntimos. Agora, debulha-se os dados para extrair as predições. Como no poema de William Blake: “A humilde Ovelha exibe o chifre ameaçador”.
Ideologia neoliberal
Urge a criação de dispositivos reguladores das tecnologias. “A tarefa futura da política progressista, no Brasil e em outras partes, deve ser a de desenvolver uma estratégia para assegurar esse controle, evidentemente, por meios democráticos”, alerta Evgeny Morozov, no prefácio redigido para a edição brasileira do ensaio Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. O bielorrusso é colaborador do The New York Times, The Economist, The Wall Street Journal, Financial Times e Observer (The Guardian), sendo republicado também em jornais da Espanha, Itália e Alemanha.
Escolhido um dos europeus mais influentes, o escriba reza pelo milagre. “O que se requer é um poderoso ethos de dinamismo empresarial, associado ao compromisso de repensar radicalmente o funcionamento da sociedade, e o papel que a tecnologia desempenha nela” (p. 10). Se não crê que a evolução cibernética, per se, coiba abusos contra a privacidade; acredita que “a utopia tecnocrática da política apolítica” possa vir a gestar um novo habitus no capitalismo, por um passe de mágica (p. 92). Mas a antinomia sugerida não depõe em desfavor do ensaísta, que não se perde pelo detalhe.
A tese central do livro é simples: “Toda discussão de tecnologia implica sancionar, muitas vezes involuntariamente, alguns dos aspectos perversos da ideologia neoliberal” (p. 25). A coisa acontece porque a discussão se dá com a gramática e sintaxe da tecnologia, elidindo a reflexão política. O modelo “dadocêntrico” liquidifica as dimensões da existência cotidiana em ativos rentáveis. Um leilão secreto ocorre sobre as preferências e as dúvidas monetizáveis dos indivíduos. Toma-se conhecimento sobre quem venceu o leilão por intermédio das ofertas comerciais no celular. Byung-Chul Han denomina “infocracia” esse intrusivo processo contábil de codificação mercadológica.
Uma doce fantasia
O Vale do Silício reinventou o Iluminismo. Larry Page (Google) e Mark Zuckerberg (Facebook) encarnam Diderot e Voltaire. O saber e as pesquisas produzidas nas universidades parece ocioso, frente ao empreendedorismo idealizado da cartilha hegemônica. Os empreendedores seriam os portadores das luzes que levam à autonomia e ao “socialismo digital”, pelo empoderamento do usuário – fazendo com que os generosos mercados despejem benefícios materiais aos que estão relegados às margens da sociedade. Uma doce fantasia: “O Facebook interessa-se por ‘inclusão digital’, como os agiotas se interessam pela ‘inclusão financeira’- em função do dinheiro” (p. 55).
A “inteligentificação” da cotidianidade faz o Google intermediário entre o consumidor, a geladeira e a lixeira – para o monitoramento. Algoritmos só não informam para quem trabalham. “Se favorecem os plutocratas que evitam impostos, as instituições financeiras globais interessadas nos orçamentos nacionais equilibrados ou as empresas que fabricam softwares de rastreamentos, – dificilmente se trata de um êxito democrático” (p. 87). Miram o consumidor. O cidadão não existe. Foi abduzido.
As avaliações se atêm à eficiência econômica e evitam os critérios políticos do bem comum. Os neotecnólogos almejam “a morte da política”. Os problemas sociais devem ser resolvidos com aplicativos, sensores e ciclos infinitos de retroalimentação, – propiciados por startups enxutos. Os conflitos entre as classes sociais seriam subprodutos analógicos. A colonização digital recrudesce a convicção no fim da luta de classes e ideologias. Dados infocráticos apagam teorias antissistêmicas, guerras de posição e movimento. A mensuração algorítmica reorganiza o Estado. As cinco irmãs (Apple, Google, Facebook, Microsoft e Amazon) pressionam para digitalizar afazeres públicos. Mas a Suécia, após quinze anos, retirou das escolas os tablets e devolveu livros físicos às salas de aula.
Economia em rede
“Somente por meio do ativismo político e de uma vigorosa crítica intelectual da própria ideologia do ‘consumismo da informação’, subjacente a essas aspirações, poderemos prevenir o desastre” (p.131), sublinha Evgeny Morozov. O ponto de partida para uma autocrítica é a crise climática. O século XX estipulava o pagamento da energia com a tabuada do pegue-pague. Anulava qualquer juízo de valor ambiental. O arranjo para a troca de créditos de carbono foi concebido para corrigir o problema, antes do colapso. A racionalidade adveio de campanhas dos ambientalistas militantes.
Há dilemas éticos. Os sensores precificam cifras de mercado para o conjunto dos usuários. Se uma decisão prejudicar alguém, o fator moral cobra um exame de consciência. Não bastam os cálculos sobre a vantagem financeira na economia compartilhada. “Devemos nos empenhar ao máximo para sustar a aparente normalidade econômica do compartilhamento de informações” (p. 134). Incentiva-se a competitividade transindividual para o capital espichar os tentáculos funcionais na sociedade.
Os casos de Julian Assange e Edward Snowden são cruciais ao futuro da democracia, cuja virtude é admitir a imperfeição, recorrer ao coletivo e otimizar a aprendizagem frente as ameaças da extrema direita. O “Estado de bem-estar digital, paralelo e privado” funda-se nas políticas de austeridade fiscal. O sucesso do Uber, por exemplo, depende da liberalização do trabalho e da precarização da mão da obra. Para David Harvey, na fase neoliberal do capitalismo prevalece a “acumulação por espoliação” dos pobres, enquanto se agravam as desigualdades. A renda básica compensaria o fim do salário como instituição social, pelos excluídos inempregáveis “no universo high-tech” (p. 161).
Assange e Snowden
O extrativismo de dados pela “inteligência artificial” (desde 1993, verbete no Dicionário do pensamento social do século XX, de William Outhwaite e Tom Bottomore) mascara contradições do sistema; não equaciona-as. As informações evocam o petróleo em priscas eras. O dublê de Saddam Hussein é o ativista Julian Assange, à espera da extradição. O “crime” do fundador do WikiLeaks (2006) foi publicar o subterrâneo das invasões do Afeganistão (2001), Iraque (2003), o ataque aéreo a Bagdá com vítimas civis (2007) e revelar que o Gmail de líderes estrangeiros fora violado no CableGate (2010). A imprensa evapora a perseguição. A vassalagem ao imperialismo é vergonhosa.
Edward Snowden, com sacrifícios pessoais, reuniu-se com Glenn Greenwald (Intercept Brasil) em Hong Kong para repassar provas das acusações de espionagem da Agência de Segurança Nacional, da potência do Norte. Exilou-se para escapar à vingança oficial. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, em 2013 e 2015. O documentário sobre a vigilância de massas pela CIA, de Laura Poitras, Citizenfour, conquistou o Oscar da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Oliver Stone filmou a cinebiografia de Edward, intitulada Snowden. Seu heroísmo já está no mural da história.
O “consumismo informacional” compara-se ao crack:vicia. A compulsão da nação imperial, em crise, impede a frase que a libertaria da doença: “Meu nome é ‘Estados Unidos’ e sou viciado em dados”. A sensação ao final da leitura lembra Jean-Jacques Rousseau, n’As confissões (1762-1765): “No abismo dos males em que estou submerso, sinto os golpes que me são dirigidos; distingo o instrumento, mas não posso ver a mão que o dirige, nem os meios de que se utiliza”. O livro de Evgeny Morozov desnuda a mão de dedos tentaculares e desmonta os ardis antidemocráticos.
*Imagem em destaque: (Reprodução/pxfuel)
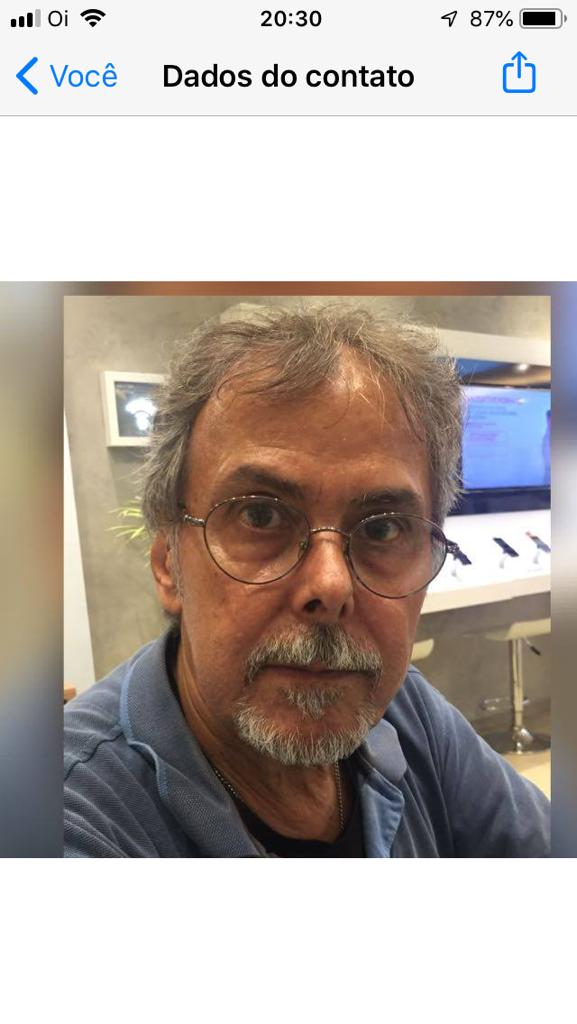
Luiz Marques é docente de Ciência Política na UFRGS, ex-Secretário de Estado da Cultura no Rio Grande do Sul

